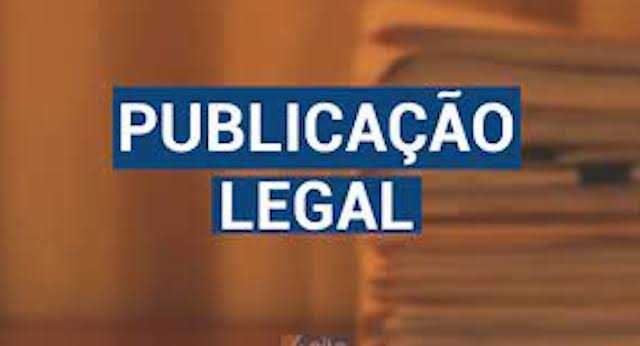“O calor aumentou, as chuvas estão mais irregulares, o inverno já não é o mesmo”, conta Hernanes Martins, apicultor e técnico agrícola de Canaã dos Carajás (PA). A percepção do morador está confirmada pela ciência.
Pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale (ITV), em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), comprovaram que a região de Carajás está mais quente e seca. Os estudos, que analisaram dados desde a década de 60 e simularam o impacto da substituição da floresta por pastagem, mostram o papel fundamental da floresta para a regulação do clima.
Se a bacia do rio Itacaiúnas é vista como um retrato em miniatura da Amazônia, as soluções encontradas ali podem ser aplicadas em toda a floresta. Entre as propostas estão a criação de corredores ecológicos, conectando áreas de floresta fragmentadas, e o incentivo à agrofloresta.
Dados preocupantes
Em 36 anos, o Mosaico de Carajás – uma área de cerca de 12 mil km² com seis unidades de conservação federais – perdeu quase metade de sua vegetação nativa. Essa perda contribuiu para elevar as temperaturas médias em até 0,6°C na parte leste da bacia e em algumas áreas a oeste, de acordo com o estudo Mudanças climáticas: a base meteorológica e cenários para Carajás.
“O futuro é incerto, mas, se a situação continuar como está, os impactos que já estamos sentindo tendem a se intensificar”, alerta Cláudia Wanzeler, doutora em clima e ambiente pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e pesquisadora do ITV.
Restauração: um caminho para a resiliência
As áreas preservadas do Mosaico de Carajás mostram que é possível conter o avanço do desmatamento. Modelos climáticos do ITV indicam que, sem o Mosaico, a temperatura local seria pelo menos 0,3°C mais alta.
As florestas atuam como reguladoras naturais, interceptando chuvas, protegendo o solo e devolvendo água à atmosfera por meio da evapotranspiração – cerca de 15 km³ de água por ano, o equivalente à vazão do rio Itacaiúnas.
A partir desses dados, os pesquisadores defendem a criação de corredores ecológicos que conectem fragmentos florestais degradados às grandes reservas de floresta primária. Esses corredores facilitam o fluxo gênico entre plantas e animais, reduzem o isolamento das espécies e ajudam a manter o equilíbrio hídrico da região.
“Quanto mais próxima uma área desmatada estiver de uma floresta nativa, maior é o seu potencial de regeneração. É por aí que a recuperação deve começar”, explica Rosane Cavalcante, pesquisadora do ITV.
Agrofloresta: o campo como aliado
Além dos corredores ecológicos, a agrofloresta também se apresenta como uma alternativa para áreas já degradadas. A técnica combina espécies agrícolas e nativas em um mesmo espaço, conciliando produção rural e recuperação florestal.
Hernanes Martins participou de experimentos com sistemas agroflorestais na região. Em quatro anos, as áreas passaram a abrigar bananeiras, mamoeiros e espécies nativas amazônicas, restaurando o solo, gerando renda e protegendo nascentes.
“Diante da luta contra o desmatamento e as mudanças climáticas, a agrofloresta é a melhor alternativa para substituir o monocultivo, pois restaura a floresta, as matas ciliares, gera empregos e renda, tudo em uma pequena área”, defende o apicultor.
De acordo com Paulo Pontes, pesquisador em recursos hídricos no ITV, as simulações mostram que, sem a restauração florestal, o oeste da bacia, onde predominam as áreas protegidas, será a região mais afetada pela redução da disponibilidade de água nas próximas décadas.
“Reflorestar não é apenas recuperar a vegetação. É garantir água, temperatura estável e segurança ambiental para toda a região”, ressalta o pesquisador.
Por que esta história é importante
A Bacia do Rio Itacaiúnas, no sudeste do Pará, é um exemplo da Amazônia em transformação, com forte pressão econômica, perda de cobertura vegetal e, ao mesmo tempo, oportunidades de regeneração. Divulgar evidências científicas sobre restauração e agrofloresta é mostrar que a recuperação da Amazônia depende de planejamento, ciência e participação da população local.